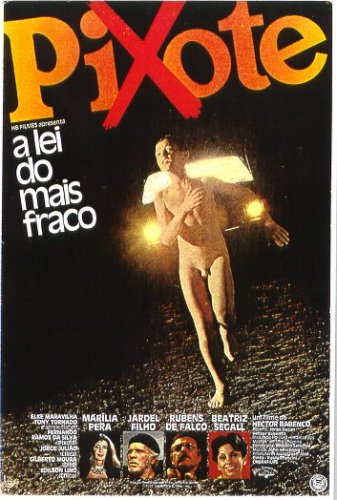Bora fazer algo diferente?
Algum
tempo atrás, em um dia de preguiça em que eu não queria assistir filme algum,
publiquei neste blog um trabalho que eu tinha escrito para a faculdade sobre
Billy Wilder. Porém, depois de publicá-lo, pensei comigo mesmo que... Os filmes
de Wilder são realmente muito bons!
Ele é um dos poucos diretores que me deixaram literalmente paralisado enquanto
assistia a um filme seu, pois eu não ousava mover um único músculo, como se
isso fosse macular a perfeição do que eu estava assistindo. É sério! E mesmo
para aqueles que não curtem filmes antigos ou cult, os melhores filmes de
Wilder possuem um apelo que acaba prendendo mesmo o cinéfilo mais mainstream (digo isso por experiência
própria!).
Sendo
assim, considerando que ele dirigiu 27 filmes, e considerando quantos destes
filmes são considerados clássicos, achei que criticar um único deles não seria
o suficiente. Juntando isso à minha vontade de fazer algo um pouco diferente,
resolvi então aproveitar estas férias para assistir os filmes que me faltavam e
fazer aqui uma postagem um pouco mais longa que meu normal com uma lista dos
meus sete filmes favoritos de Billy Wilder, e com isso inaugurar o que, com
sorte, pode se tornar um novo bloco deste blog, “Os Sete”. Por que sete? Porque
gosto deste número, só isso. E por que não “Top Sete”? Porque este não é um
top. Tanto que irei listar os filmes em ordem cronológica, sem definir qual
deles eu gosto mais. São apenas os sete filmes de Billy Wilder que mais acho
que valem a pena. Pode ser que você não concorde com esta lista, que haja algo
que você queira mudar? Lógico. Mas ei, não é assim com toda lista de filmes?
#1:
Pacto de Sangue (1944)

Sinopse:
Um
vendedor de seguros (Fred MacMurray) se apaixona pela esposa de um de seus
clientes (Barbara Stanwyck) e juntos armam um esquema para matar o marido dela
e conseguir uma enorme indenização. O plano inicialmente funciona, porém a
seguradora, não querendo pagar a indenização, começa a encontrar alguns furos
na “morte acidental”, ao mesmo tempo em que a relação entre os dois amantes
fica cada vez mais tensa.
O
noir para dar inveja a todos os
outros noirs. Ao iniciar o filme com
o protagonista, com um tiro no ombro, nos contando que o plano deu errado, Wilder
aqui nos leva a um tipo de suspense fora do comum: O que importa não é se o plano deu errado, mas sim como. Cena após cena, uma nova ameaça surge,
algo que parece que vai pôr tudo por água abaixo, como se o filme estivesse
jogando um jogo de batata-quente consigo mesmo: Afinal, quando é que essa bomba
vai explodir? Ao mesmo tempo, todos os personagens parecem ter seus papeis
desconstruídos: O personagem de MacMurray, embora seja confiante, inteligente e
pareça ter tudo sob controle, não percebe o quanto ele próprio está sendo
controlado; a femme fatale de
Stanwyck não é uma mulher particularmente sensual, seu rostinho parecendo
inocente e indefeso o suficiente para enganar aqueles ao seu redor; e, ao invés
de detetives, os investigadores do filme são de uma seguradora que apenas
investiga o caso para não precisar perder dinheiro.
Como
se não bastasse uma grande narrativa, os aspectos mais técnicos de “Pacto de
Sangue” são impecáveis: As atuações memoráveis, os jogos de luz e sombra dos
quais Wilder faz grande uso ao longo do filme, dando o devido tom sombrio à
história, e não vamos esquecer a poderosa e dramática trilha sonora de Miklós
Rózsa, que logo nos créditos iniciais dá à simples sombra de um homem de
muletas a impressão de algo muito maior que a própria vida (se tiverem a
chance, assistam este filme na tela grande, nem que seja apenas por esta tomada
inicial).
#2:
Farrapo Humano (1945)

Sinopse:
Don
Birnam (Ray Milland) é um escritor fracassado que tenta afogar suas frustrações
na bebida, tornando-se um alcoólatra. Quando se atrasa para uma viagem por ter
perdido a hora no bar, ele então passa um longo fim de semana sozinho com seus
demônios.
Poucas
vezes exclamei “Santo Deus!” ao terminar de assistir um filme. Esta foi uma
delas. Durante o clímax, meu rosto estava quase colado na tela, de tanto que eu
estava (literalmente!) sendo sugado pela intensidade do drama. E intensidade é
a palavra que melhor define “Farrapo Humano”: Wilder aqui aborda o alcoolismo
sem maquiagem alguma, com uma sinceridade que filme algum antes (e pouquíssimos
depois) ousou abordar. A agonia pela qual Birnam passa toda vez que é privado
de beber; a forma como ele mente, rouba e faz qualquer coisa para conseguir seu
precioso uísque; e sua euforia uma vez que fica enfim bêbado e se sente capaz
de fazer qualquer coisa, apenas para perceber que não consegue fazer nada (o
que o faz querer encher a cara ainda mais); tudo isso é retratado através de um
combo entre alguns dos melhores monólogos da história do cinema e a atuação de
Milland, que dá tudo, absolutamente tudo de si neste papel, com seu rosto, suas
mãos, seu corpo inteiro expressando a angústia de seu personagem.
A
direção de Wilder, aqui, é de uma força quase física, cada cena sendo sentida
como um soco no estômago. O resultado é uma experiência audiovisual que te faz
entrar na pele do protagonista e sentir o que ele sente: O torpor, a dor, e a
constante sensação de se estar vivendo um sonho, ou, melhor dizendo, um
pesadelo (reforçada mais uma vez pela trilha sonora de Rózsa e o inteligente
uso que ele faz do teremim), que pode assumir até mesmo formas definidas, nas
agonizantes e, ainda hoje, chocantes cenas em que o filme aborda o delírio
alcoólico. Uma coisa eu digo, após assistir (ou, melhor dizendo, sentir) este filme, demorará um pouco
pra você pegar de volta num copo de álcool.
#3:
Crepúsculo dos Deuses (1950)
Sinopse:
Um
roteirista sem sucesso (William Holden), fugindo daqueles que querem retomar
seu carro, entra por acaso na mansão de Norma Desmond (Gloria Swanson), uma
antiga estrela do cinema mudo. Ao saber que ele é roteirista, Norma o contrata
para escrever o roteiro do filme que a levará de volta às telas, porém com o
tempo ela cria uma paixão obsessiva pelo homem mais jovem.
Já assisti a este filme
um milhão de vezes, mas de alguma forma ele continua me deixando arrepiado. Wilder
aqui não teve medo de morder a mão que o alimentava ao fazer um dos retratos
mais cínicos até então vistos de Hollywood: Não como uma fábrica de sonhos, mas
como uma destruidora dos mesmos; seja dos jovens iniciantes que mesmo com todo
o esforço do mundo não conseguem fazer suas carreiras decolarem, seja dos
veteranos que de um dia para o outro se veem esquecidos pelo público e
ignorados pelos estúdios. Nisso, Swanson “rouba” a cena, como esta mulher
extremamente orgulhosa e melodramática, que se recusa a deixar para trás os
dias em que foi tratada como uma deusa. Coloco roubar entre aspas porque o filme
é de fato dela, a fotografia e a trilha sonora tornando-a uma verdadeira diva,
transmitindo uma aura de poder e loucura.
A aura, aliás, é uma
parte importante do impacto deste filme, transmitindo ao mesmo tempo a
elegância exagerada do estilo de vida de Norma e o mistério que está sempre
pairando no ar: Quando o personagem de Holden entra pela primeira vez na mansão
quase abandonada, a impressão que se tem beira à de um filme de terror! “Crepúsculo
dos Deuses”, porém, não se esquece de utilizar da insanidade de seus personagens
(mesmo o protagonista, mordazmente cínico, se deixa levar pela loucura que o
cerca) como uma forte crítica à insanidade geral da indústria cinematográfica
hollywoodiana, que pouco se preocupa com as pessoas nela envolvidas e seus
sonhos individuais: Enquanto a máquina continuar funcionando e dando dinheiro,
qualquer um é dispensável.
#4:
Inferno Número 17 (1953)

Sinopse:
Durante
a 2ª Guerra Mundial, um grupo de sargentos americanos é mantido cativo no campo
de prisioneiros alemão Stalag 17. Em uma das barracas, os prisioneiros constantemente
tentam fugir e/ou sabotar a segurança, porém todas as suas tentativas falham,
indicando a presença de um traidor entre eles.
Quem
diria que um filme sobre prisioneiros de guerra seria tão engraçado! O que
poderia parecer uma situação desesperadora é aqui tratado com tamanha leveza e
escárnio que é difícil não rir junto com este grupo de militares que mais
parecem saídos dos Looney Tunes, aproveitando da melhor maneira possível o pouco
que um campo de prisioneiros nazista lhes oferece: Tentando espiar as
prisioneiras russas enquanto elas tomam banho, bebendo o que quer que saia de
um alambique improvisado, apostando em corridas de ratos e, claro, aproveitando
toda e qualquer chance para tirar sarro dos guardas alemães (especialmente em
uma cena envolvendo o “Mein Kampf” que me fez rir muito alto). As atuações são comicamente exageradas na medida
certa, tornando memoráveis cada um dos muitos personagens do filme, e os atores
interagem muito bem entre si, como verdadeiros companheiros.
Toda
a comédia, porém, não deixa de lado o drama em cima do qual a trama se
desenrola: O do traidor entre os prisioneiros, e do sargento que todos
consideram estar vendendo informações e que, após ser espancado, tenta
descobrir por conta própria quem é o verdadeiro traidor. E quando o filme
decide se focar no drama, este pode por vezes ser bastante intenso. Por mais
ridículos e estúpidos que os guardas nazistas pareçam em alguns momentos,
quando Wilder quer que eles sejam ameaçadores, eles conseguem ser realmente ameaçadores! Tal drama, porém,
de uma forma curiosa ajuda a tornar as cenas cômicas ainda mais engraçadas, pois o alívio oferecido pelo humor é maior. “Inferno
Número 17”, assim, fica como uma prova da versatilidade do diretor em lidar
tanto com a comédia quanto com o drama.
#5:
Testemunha de Acusação (1957)
Sinopse:
Após
sair de um coma, um advogado idoso e com problemas de saúde (Charles Laughton)
aceita defender um homem (Tyrone Power) acusado de matar uma senhora. A única
testemunha que poderia ajudar é a esposa do réu (Marlene Dietrich), porém esta
não parece muito interessada em defender seu marido.
Coloque
um roteiro de teatro da rainha do crime Agatha Christie nas mãos de um dos
diretores mais competentes de todos os tempos, e o resultado é uma obra-prima
não só entre filmes de tribunal, mas do cinema em si. Como se não bastasse
Wilder mostrar total domínio sobre alguns poucos cenários bem limitados, ainda
consegue extrair o absoluto melhor de todos os atores, especialmente do trio
principal, do qual é difícil dizer qual se saiu melhor, cada um parecendo nascido
para o papel que interpreta. Como se não bastasse as excelentes atuações, o
roteiro ajuda a tornar cada personagem carismático à sua própria maneira, não
apenas por se focar em um pequeno número deles, mas também devido à trama girar
inteiramente no drama deles, sem grandes pretensões. Acabamos, assim, nos
conectando bastante com os protagonistas, apesar de e, talvez até, devido a
seus defeitos (Laughton sendo cínico a um nível insuportável àqueles ao seu
redor, Power sendo um idiota que não tem noção da situação em que se meteu, e
Dietrech sendo fria como uma pedra de gelo e disposta a contar qualquer mentira).
Tal
foco sem pretensões, porém, não significa que “Testemunha de Acusação” tem uma
trama simples. Oh, não, senhor(a): Além de diversos flashbacks, o enredo possui
uma reviravolta atrás da outra, tornando o final praticamente imprevisível (a
ponto de os créditos possuírem uma “nota do diretor” pedindo para os
espectadores não revelarem o final àqueles que ainda não assistiram o filme).
Mas uma trama tão densa surpreendentemente não soa pesada demais, graças aos
toques de humor negro colocados aqui e ali que tornam o filme, além de muito
bom, também divertido.
#6:
Quanto Mais Quente Melhor (1959)
Sinopse:
Em 1929, dois músicos (Tony Curtis e Jack Lemmon) testemunham uma chacina da
máfia. Para fugirem, disfarçam-se de mulheres e entram em uma banda feminina em
turnê para a Flórida, onde acabam se apaixonando por outra membra da banda
(Marylin Monroe).
Há
bons motivos para esta ser considerada uma das melhores comédias de todos os
tempos: Além de manter um ritmo rápido até mesmo comparado ao que temos
atualmente, Wilder aborda temas “sexuais” com extrema ousadia (ainda mais
considerando a época em que o filme foi feito) sem, porém, soar vulgar. Aqui,
temos comédia para todos os gostos, da considerada de mais “alta classe”,
baseada em diálogos e situações, até a mais pastelão, com pessoas caindo e
perseguições que parecem saídas de um episódio de Scooby-Doo. Há tanto
personagens espertos sempre prontos para uma frase de efeito cínica quanto completos
idiotas que sorriem mesmo nas situações mais absurdas, para o desespero
daqueles ao seu redor. Por vezes, os dois extremos do humor alternam-se um ao
outro de forma tão rápida e escrachada que isso por si só acaba sendo hilário.
Os
atores também parecem estar se divertindo montes com o filme. Mesmo Marylin
Monroe, que Wilder odiava a ponto de dizer que ela tinha “peitos como granito e
cérebro como queijo suíço”, tem seus momentos de brilho como a garota tonta e
ingênua que só quer pelo menos uma vez na vida se dar bem (apenas imagino a
cara de satisfação de Wilder ao filmar a cena em que Monroe monologa sobre o
quão burra ela é). Curtis e Lemmon também têm uma grande química entre si como
a velha dupla “espertalhão/covarde”, cada um interpretando seu papel com
maestria apesar de todas as exigências impostas pelo roteiro, especialmente
Curtis, que se vê tendo que ser convincente em três personalidades
completamente diferentes. Não que Lemmon não brilhe nas cenas mais “pastelão”,
especialmente a perseguição no clímax, em que ele corre pra lá e pra cá de
salto alto.
#7:
Se Meu Apartamento Falasse (1960)
Sinopse:
C.
C. Baxter (Jack Lemmon) aceita emprestar seu apartamento aos seus superiores
para que estes tenham lá seus casos extraconjugais, na esperança de assim
conseguir ser promovido. Ao mesmo tempo, é apaixonado por Fran, a operadora do
elevador do prédio onde trabalha (Shirley MacLaine), porém mal sabe ele que ela
é amante do diretor da empresa (Fred MacMurray).
Se
os outros filmes desta lista provaram tanto a capacidade dramática quanto
cômica de Wilder, esta é a maior prova de sua sensibilidade. Não importa o
quanto você ri ou chora ao assisti-lo, acima de tudo “Se Meu Apartamento
Falasse” é um dos mais sensíveis filmes românticos já feitos. Wilder deixa aqui
um pouco de lado seu típico estilo cínico para contar uma história de amor que
te acerta em cheio direto no coração. Não que ele não esteja totalmente fora do
filme: O diretor ainda retrata de forma bastante maldosa os superiores de
Baxter, que pouco se importam com o pobre-coitado e ameaçam demiti-lo caso ele
não lhes ofereça a residência como motel grátis. Mas este não é o foco do
filme. O foco está de fato no tímido Baxter e em sua paixão platônica por Fran.
Ambos os personagens se deixam serem usados pelos outros sem nada em troca (Baxter
por seus superiores que não o respeitam, e Fran por seu amante que não a ama), e
embora isso inicialmente seja tratado de forma cômica, assume ao longo do filme
um tom cada vez mais trágico, de forma que possamos sentir o máximo de empatia
pelo “casal” e queiramos com todas as nossas forças que eles fiquem juntos. E
embora a forma inusitada como Baxter consegue enfim ter um momento a sós com
Fran tenha sido bastante repetida em filmes posteriores, nenhum conseguiu
alcançar a ternura de “Se Meu Apartamento Falasse”.
Ternura,
aliás, é definitivamente a palavra que melhor define este filme, do começo ao
fim passando aquele calor gostoso no coração que nos faz suspirar, reforçada
pela linda trilha sonora de Adolph Deutsch.